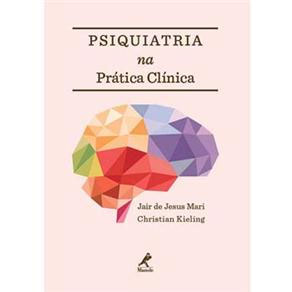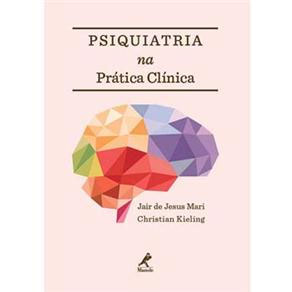Cientistas buscam novo modelo para doenças mentais
A mesma revolução que vem acontecendo na oncologia, apoiada na genômica e no conhecimento da biologia do câncer, precisa acontecer agora na psiquiatria. O diagnóstico e o tratamento de doenças mentais – como bipolaridade, depressão maior, déficit de atenção (TDAH) e esquizofrenia – precisam se tornar mais personalizados, adaptados às características genéticas, biológicas e comportamentais de cada paciente.
É o que afirma o médico Bruce Cuthbert, do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH), e outros pesquisadores que participaram do Y-Mind, um encontro de especialistas sobre o tema realizado na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na semana passada. Eles defendem mudanças significativas na maneira de se lidar com as doenças psiquiátricas, tanto no âmbito da ciência quanto da medicina.
A principal limitação atual, segundo Cuthbert, é que os sistemas de diagnóstico são baseados na observação de sintomas, que só se manifestam quando a pessoa já está doente e que fornecem informações limitadas – e frequentemente confusas – sobre o que está acontecendo no cérebro do paciente. Ou seja, sobre as causas do problema.
“Se quisermos falar em prevenção, se quisermos falar em cura, precisamos entender muito melhor os mecanismos da doença, para que possamos tratar a patologia em si, e não apenas os seus sintomas”, diz o cientista americano, que dirige a Divisão de Pesquisa Translacional e Desenvolvimento de Terapias para Adultos do NIMH.
Em primeiro lugar, segundo os pesquisadores, é preciso rever a maneira como as doenças psiquiátricas são classificadas. A ideia seria passar de um modelo compartimentado, mais parecido com um gaveteiro, em que cada transtorno é descrito separadamente do outro, para um modelo mais parecido com o de uma árvore evolutiva (ou até de uma floresta), cheia de ramificações, em que cada galho representa uma combinação individual de fatores genéticos, ambientais e comportamentais.
Hoje, pelo modelo compartimentado, pacientes com sintomas parecidos são diagnosticados como tendo a mesma doença – esquizofrenia, por exemplo – o que não é necessariamente verdade. Assim como duas mulheres com câncer de mama podem ter doenças bastante diferentes, envolvendo tipos de células, genes e mutações distintas, duas pessoas com sintomas semelhantes de esquizofrenia podem sofrer de transtornos diferentes, envolvendo células, moléculas, genes e circuitos neuronais distintos, que exigem tratamentos igualmente diferenciados. Por isso é comum uma droga funcionar para um paciente, porém ser inócua para outro.
Da mesma forma, é possível que dois casos classificados como transtornos distintos tenham raízes genéticas comuns, envolvendo um mesmo circuito neuronal, permitindo que eles sejam tratados de forma semelhante. Há uma grande área cinzenta entre a bipolaridade e a esquizofrenia, por exemplo – razão pela qual há gêmeos idênticos que manifestam transtornos diferentes, apesar de terem o mesmo genoma.
Paradigmas. Um grande estudo publicado há cerca de um mês na revista médica Lancet revelou que há várias semelhanças genéticas entre cinco doenças mentais de grande prevalência na população: autismo, déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), bipolaridade, depressão maior e esquizofrenia.
“Essas doenças não existem isoladamente como pensamos nelas atualmente. O que existem são modelos teóricos que foram desenvolvidos para organizar as pesquisas”, diz o pesquisador Jair Mari, coordenador do Programa de Pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. “Esse modelo foi importante para chegar onde estamos hoje, mas ele já se esgotou. Precisamos de um novo paradigma.”
Para Cuthbert, falar que alguém tem esquizofrenia hoje é o mesmo que dizer que alguém tinha câncer 30 anos atrás: “Não nos diz nada sobre as características da doença ou como ela deve ser tratada”.
O ideal seria que os diagnósticos, como já ocorre na oncologia, fossem baseados em uma descrição dos fatores genéticos, biológicos e químicos que estão alterados no cérebro de cada paciente – e que o tratamento fosse definido com base nessas características individuais. “Não precisamos encaixar o paciente numa doença específica; precisamos caracterizar a doença do paciente”, afirma Mari.
Nessa “psiquiatria personalizada” do futuro, a entrevista com o psiquiatra seria apenas parte de um processo de análise clínica, envolvendo uma série de testes de referência, desde exames de sangue (para medir o nível de certas proteínas) até exames de DNA (para identificar perfis genéticos), ressonâncias magnéticas e testes cognitivos.
“Os sintomas devem ser o ponto de partida para o diagnóstico, não o seu fator determinante”, afirma Cuthbert.
Para colocar esse novo paradigma em prática, serão necessários ainda muitos anos de pesquisa sobre a genética e a neurobiologia das doenças mentais, e sobre como esses fatores biológicos interagem com fatores ambientais e comportamentais do paciente (como uso de drogas, estresse ou exposição a eventos traumáticos).
“Estamos falando do início de um grande experimento. Os resultados vão levar anos para aparecer, mas não podemos perder tempo; precisamos começar agora”, pondera Cuthbert, que coordena desde 2009 um programa do NIMH chamado RDoC, com o objetivo de financiar pesquisas voltadas para esse tema.